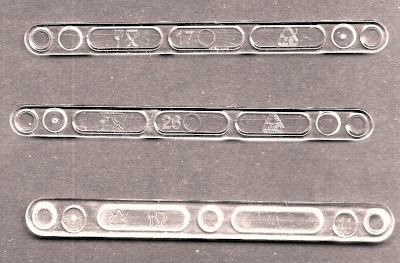.
Discurso de José Saramago ao receber, em Estocolmo, o Prémio Nóbel da Literatura, 1998:
De como a personagem foi mestre e o autor seu aprendiz
O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às quatro da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Viviam desta escassez os meus avós maternos, da pequena criação de porcos que, depois do desmame, eram vendidos aos vizinhos da aldeia, Azinhaga de seu nome, na província do Ribatejo. Chamavam-se Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha esses avós, e eram analfabetos um e outro. No Inverno, quando o frio da noite apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro da casa, iam buscar às pocilgas os bácoros mais débeis e levavam-nos para a sua cama. Debaixo das mantas grosseiras, o calor dos humanos livrava os animalzinhos do enregelamento e salvava-os de uma morte certa. Ainda que fossem gente de bom carácter, não era por primores de alma compassiva que os dois velhos assim procediam: o que os preocupava, sem sentimentalismos nem retóricas, era proteger o seu ganha-pão, com a naturalidade de quem, para manter a vida, não aprendeu a pensar mais do que o indispensável. Ajudei muitas vezes este meu avô Jerónimo nas suas andanças de pastor, cavei muitas vezes a terra do quintal anexo à casa e cortei lenha para o lume, muitas vezes, dando voltas e voltas à grande roda de ferro que accionava a bomba, fiz subir a água do poço comunitário e a transportei ao ombro, muitas vezes, às escondidas dos guardas das searas, fui com a minha avó, também pela madrugada, munidos de ancinho, panal e corda, a recolher nos restolhos a palha solta que depois haveria de servir para a cama do gado. E algunas vezes, em noites quentes de Verão, depois da ceia, meu avô me disse: "José, hoje vamos dormir os dois debaixo da figueira." Havia outras duas figueiras, mas aquela, certamente por ser a maior, por ser a mais antiga, por ser a de sempre, era, para todas as pessoas da casa, a figueira. Mais ou menos por antonomásia, palavra erudita que só muitos anos depois viria a conhecer e a saber o que significava... No meio da paz nocturna, entre os ramos altos da árvore, uma estrela aparecia-me, e depois, lentamente, escondia-se por trás de uma folha, e, olhando eu noutra direcção, tal como um rio correndo em silêncio pelo céu côncavo, surgia a claridade opalescente da Via Láctea, o Caminho de Santiago, como ainda lhe chamávamos na aldeia. Enquanto o sono não chegava, a noite povoava-se com as histórias e os casos que o meu avô ia contando: lendas, aparições, assombros, episódios singulares, mortes antigas, zaragatas de pau e pedra, palavras de antepassados, um incansável rumor de memórias que me mantinha desperto, ao mesmo tempo que suavemente me acalentava. Nunca pude saber se ele se calava quando se apercebia de que eu tinha adormecido, ou se continuava a falar para não deixar em meio a resposta à pergunta que invariavelmente lhe fazia nas pausas mais demoradas que ele calculadamente metia no relato: "E depois?" Talvez repetisse as histórias para si próprio, quer fosse para não as esquecer, quer fosse para as enriquecer com peripécias novas. Naquela idade minha e naquele tempo de nós todos, nem será preciso dizer que eu imaginava que o meu avô Jerónimo era senhor de toda a ciência do mundo. Quando, à primeira luz da manhã, o canto dos pássaros me despertava, ele já não estava ali, tinha saído para o campo com os seus animais, deixando-me a dormir. Então levantava-me, dobrava a manta e, descalço (na aldeia andei sempre descalço até aos 14 anos), ainda com palhas agarradas ao cabelo, passava da parte cultivada do quintal para a outra onde se encontravam as pocilgas, ao lado da casa. Minha avó, já a pé antes do meu avô, punha-me na frente uma grande tijela de café com pedaços de pão e perguntava-me se tinha dormido bem. Se eu lhe contava algum mau sonho nascido das histórias do avô, ela sempre me tranquilizava : "Não faças caso, em sonhos não há firmeza". Pensava então que a minha avó, embora fosse também uma mulher muito sábia, não alcançava as alturas do meu avô, esse que, deitado debaixo da figueira, tendo ao lado o neto José, era capaz de pôr o universo em movimento apenas com duas palavras. Foi só muitos anos depois, quanto o meu avô já se tinha ido deste mundo e eu era um homem feito, que vim a compreender que a avó, afinal, também acreditava em sonhos. Outra coisa não podería significar que, estando ela sentada, uma noite, à porta da sua pobre casa, onde então vivia sozinha, a olhar as estrelas maiores e menores por cima da sua cabeça, tivesse dito estas palavras: "O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer". Não disse medo de morrer, disse pena de morrer, como se a vida de pesado e contínuo trabalho que tinha sido a sua estivesse, naquele momento quase final, a receber a graça de uma suprema e derradeira despedida, a consolaçao da beleza revelada. Estava sentada à porta de uma casa como não creio que tenha havido alguma outra no mundo porque nela viveu gente capaz de dormir com porcos como se fossem os seus próprios filhos, gente que tinha pena de ir-se da vida só porque o mundo era bonito, gente, e este foi o meu avô Jerónimo, pastor e contador de histórias, que, ao pressentir que a morte o vinha buscar, foi despedir-se das árvores do seu quintal, uma por uma, abraçando-se a elas e chorando porque sabia que não as tornaria a ver.
Muitos anos depois, escrevendo pela primeira vez sobre este meu avô Jerónimo e e esta minha avó Josefa (faltou-me dizer que ela tinha sido, no dizer de quantos a conheceram quando rapariga, de uma formosura invulgar), tive consciência de que estava a transformar as pessoas comuns que eles haviam sido em personagens literárias e que essa era, provavelmente, a maneira de não os esquecer, desenhando e tornando a desenhar os seus rostos com o lápis sempre cambiante da recordação, colorindo e iluminando a monotonia de um quotidiano baço e sem horizontes, como quem vai recriando, por cima do instável mapa da memória, a irrealidade sobrenatural do país em que decidiu passar a viver. A mesma atitude de espírito que, depois de haver evocado a fascinante e enigmática figura de um certo bisavô berbere, me levaria a descrever mais ou menos nestes termos um velho retrato (hoje já com quase oitenta anos) onde os meus pais aparecem: "Estão os dois de pé, belos e jovens, de frente para o fotógrafo, mostrando no rosto uma expressão de solene gravidade que é talvez temor diante da câmara, no instante em que a objectiva vai fixar, de um e do outro, a imagem que nunca mais tornarão a ter, porque o dia seguinte será implacavelmente outro dia... Minha mãe apoia o cotovelo direito numa alta coluna e segura na mão esquerda, caída ao longo do corpo, uma flor. Meu pai passa o braço por trás das costas de minha mãe e a sua mão calosa aparece sobre o ombro dela como uma asa. Ambos pisam acanhados um tapete de ramagens. A tela que serve de fundo postiço ao retrato mostra umas difusas e incongruentes arquitecturas neoclássicas". E terminava: "Um dia tinha de chegar em que contaria estas coisas. Nada disto tem importância, a não ser para mim. Um avô berbere, vindo do Norte de Àfrica, um outro avô pastor de porcos, uma avó maravilhosamente bela, uns pais graves e formosos, uma flor num retrato - que outra genealogia pode importar-me? a que melhor árvore me encostaria?"
Escrevi estas palavras há quase trinta anos, sem outra intenção que não fosse reconstituir e registar instantes da vida das pessoas que me geraram e que mais perto de mim estiveram, pensando que nada mais precisaria de explicar para que se soubesse de onde venho e de que materiais se fez a pessoa que comecei por ser e esta em que pouco a pouco me vim tornando. Afinal, estava enganado, a biologia não determina tudo, e, quanto à genética, muito misteriosos deverão ter sido os seus caminhos para terem dado uma volta tão larga... À minha árvore genealógica (perdôe-se-me a presunção de a designar assim, sendo tão minguada a substância da sua seiva) não faltavam apenas alguns daqueles ramos que o tempo e os sucessivos encontros da vida vão fazendo romper do tronco central, também lhe faltava quem ajudasse as suas raízes a penetrar até às camadas subterrâneas mais fundas, quem apurasse a consistência e o sabor dos seus frutos, quem ampliasse e robustecesse a sua copa para fazer dela abrigo de aves migrantes e amparo de ninhos. Ao pintar os meus pais e os meus avós com tintas de literatura, transformando-os, de simples pessoas de carne e osso que haviam sido, em personagens novamente e de outro modo construtoras da minha vida, estava, sem o perceber, a traçar o caminho por onde as personagens que viesse a inventar, as outras, as efectivamente literárias, iriam fabricar e trazer-me os materiais e as ferramentas que, finalmente, no bom e no menos bom, no bastante e no insuficiente, no ganho e no perdido, naquilo que é defeito mas também naquilo é excesso, acabariam por fazer de mim a pessoa em que hoje me reconheço: criador dessas personagens, mas, ao mesmo tempo, criatura delas. Em certo sentido poder-se-á mesmo dizer que, letra a letra, palavra a palavra, página a página, livro a livro, tenho vindo, sucessivamente, a implantar no homem que fui as personagens que criei. Creio que, sem elas, não seria a pessoa que hoje sou, sem elas talvez a minha vida não tivesse logrado ser mais do que um esboço impreciso, uma promessa como tantas outras que de promessa não conseguiram passar, a existência de alguém que talvez pudesse ter sido e afinal não tinha chegado a ser.
Agora sou capaz de ver com clareza quem foram os meus mestres de vida, os que mais intensamente me ensinaram o duro ofício de viver, essas dezenas de personagens de romance e de teatro que neste momento vejo desfilar diante dos meus olhos, esses homens e essas mulheres feitos de papel e de tinta, essa gente que eu acreditava ir guiando de acordo com as minhas conveniências de narrador e obedecendo à minha vontade de autor, como títeres articulados cujas acções não pudessem ter mais efeito em mim que o peso suportado e a tensão dos fios com que os movia. Desses mestres, o primeiro foi, sem dúvida, um medíocre pintor de retratos que designei simplesmente pela letra H., protagonista de uma história a que creio razoável chamar de dupla iniciação (a dele, mas também, de algum modo, do autor do livro), intitulada Manual de Pintura e Caligrafia, que me ensinou a honradez elementar de reconhecer e acatar, sem ressentimento nem frustração, os meus próprios limites: não podendo nem ambicionando aventurar-me para além do meu pequeno terreno de cultivo, restava-me a possibilidade de escavar para o fundo, para baixo, na direcção das raízes. As minhas, mas também as do mundo, se podia permitir-me uma ambição tão desmedida. Não me compete a mim, claro está, avaliar o mérito do resultado dos esforços feitos, mas creio ser hoje patente que todo o meu trabalho, de aí para diante, obedeceu a esse propósito e a esse princípio.
Vieram depois os homens e as mulheres do Alentejo, aquela mesma irmandade de condenados da terra a que pertenceram o meu avô Jerónimo e a minha avó Josefa, componeses rudes obrigados a alugar a força dos braços a troco de um salário e de condições de trabalho que só mereceriam o nome de infames, cobrando por menos que nada a vida a que os seres cultos e civilizados que nos prezamos de ser apreciamos chamar, segundo as ocasiões, preciosa, sagrada ou sublime. Gente popular que conheci, enganada por uma Igreja tão cúmplice como beneficiária do poder do Estado e dos terratenentes latifundistas, gente permanentemente vigiada pela polícia, gente, quantas e quantas vezes, vítima inocente das arbitrariedades de uma justiça falsa. Três gerações de uma família de componeses, os Mau-Tempo, desde o começo do século até à Revolução de Abril de 1974 que derrubou a ditadura, passam nesse romance a que dei o título de Levantado do Chão, e foi com tais homens e mulheres do chão levantados, pessoas reais primeiro, figuras de ficção depois, que aprendi a ser paciente, a confiar e a entregar-me ao tempo, a esse tempo que simultaneamente nos vai construindo e destruindo para de novo nos construir e outra vez nos destruir. Só não tenho a certeza de haver assimilado de maneira satisfatória aquilo que a dureza das experiências tornou virtude nessas mulheres e nesses homens: uma atitude naturalmente estóica perante a vida. Tendo em conta, porém, que a liçao recebida, passados mais de vinte anos, ainda permanece intacta na minha memória, que todos os dias a sinto presente no meu espírito como uma insistente convocatória, não perdi, até agora, a esperança de me vir a tornar um pouco mais merecedor da grandeza dos exemplos de dignidade que me foram propostos na imensidão das planícies do Alentejo. O tempo o dirá.
Que outras lições poderia eu receber de um português que viveu no século XVI, que compôs as Rimas e as glórias, os naufrágios e os desencantos pátrios de Os Lusíadas, que foi um génio poético absoluto, o maior da nossa Literatura, por muito que isso pese a Fernando Pessoa, que a si mesmo se proclamou como o Super-Camões dela? Nenhuma lição que estivesse à minha medida, nenhuma lição que eu fosse capaz de aprender, salvo a mais simples que-me poderia ser oferecida pelo homem Luís Vaz de Camões na sua estreme humanidade, por exemplo, a humildade orgulhosa de um autor que vai chamando a todas as portas à procura de quem esteja disposto a publicar-lhe o livro que escreveu, sofrendo por isso o desprezo dos ignorantes de sangue e de casta, a indiferença desdenhosa de um rei e da sua companhia de poderosos, o escárnio com que desde sempre o mundo tem recebido a visita dos poetas, dos visionários e dos loucos. Ao menos uma vez na vida, todos os autores tiveram ou terão de ser Luís de Camões, mesmo se não escreveram as redondilhas de Sôbolos rios... Entre fidalgos da corte e censcores do Santo Ofício, entre os amores de antanho e as desilusões da velhice prematura, entre a dor de escrever e a alegria de ter escrito, foi a este homem doente que regressa pobre da Índia, aonde muitos só iam para enriquecer, foi a este soldado cego de um olho e golpeado na alma, foi a este sedutor sem fortuna que não voltará nunca mais a perturbar os sentidos das damas do paço, que eu pus a viver no palco da peça de teatro chamada Que farei com este livro?, em cujo final ecoa uma outra pergunta, aquela que importa verdadeiramente, aquela que nunca saberemos se alguma vez chegará a ter resposta suficiente: "Que fareis com este livro?" Humildade orgulhosa, foi essa de levar debaixo do braço uma obra-prima e ver-se injustamente enjeitado pelo mundo. Humildade orgulhosa também, e obstinada, estar de querer saber para que irão servir amanhã os livros que andamos a escrever hoje, e logo duvidar que consigam perdurar longamente (até quando?) as razões tranquilizadoras que acaso nos estejam a ser dadas ou que estejamos a dar a nós próprios. Ninguém melhor se engana que quando consente que o enganem os outros...
Aproximam-se agora um homem que deixou a mão esquerda na guerra e uma mulher que veio ao mundo com o misterioso poder de ver o que há por trás da pele das pessoas. Ele chama-se Baltasar Mateus e tem a alcunha de Sete-Sóis, a ela conhecem-na pelo nome de Blimunda, e também pelo apodo de Sete-Luas que lhe foi acrescentado depois, porque está escrito que onde haja um sol terá de haver uma lua, e que só a presença conjunta e harmoniosa de um e do outro tornará habitável, pelo amor, a terra. Aproxima-se também um padre jesuíta chamado Bartolomeu que inventou uma máquina capaz de subir ao céu e voar sem outro combustível que não seja a vontade humana, essa que, segundo se vem dizendo, tudo pode, mas que não pôde, ou não soube, ou não quis, até hoje, ser o sol e a lua da simples bondade ou do ainda mais simples respeito. São três loucos portugueses do século XVIII, num tempo e num país onde floresceram as superstições e as fogueiras da Inquisição, onde a vaidade e a megalomania de um rei fizeram erguer um convento, um palácio e uma basílica que haveriam de assombrar o mundo exterior, no caso pouco provável de esse mundo ter olhos bastantes para ver Portugal, tal como sabemos que os tinha Blimunda para ver o que escondido estava... E também se aproxima uma multidão de milhares e milhares de homens com as mãos sujas e calosas, com o corpo exausto de haver levantado, durante anos a fio, pedra a pedra, os muros implacáveis do convento, as salas enormes do palácio, as colunas e as pilastras, as aéreas torres sineiras, a cúpula da basílica suspensa sobre o vazio. Os sons que estamos a ouvir são do cravo de Domenico Scarlatti, que não sabe se deve rir ou chorar... Esta é a história de Memorial do Convento, um livro em que o aprendiz de autor, graças ao que lhe vinha sendo ensinado desde o antigo tempo dos seus avós Jerónimo e Josefa, já conseguiu escrever palavras como estas, donde não está ausente alguma poesia: "Além da conversa das mulheres, são os sonhos que seguram o mundo na sua órbita. Mas são também os sonhos que lhe fazem um coroa de luas, por isso o céu é o resplendor que há dentro da cabeça dos homens, se não é a cabeça dos homens o próprio e único céu". Que assim seja.
De lições de poesia sabia já alguma coisa o adolescente, aprendidas nos seus livros de texto quando, numa escola de ensino profissional de Lisboa, andava a preparar-se para o ofício que exerceu no começo da sua vida de trabalho: o de serralheiro mecânico. Teve também bons mestres da arte poética nas longas horas nocturnas que passou em bibliotecas públicas, lendo ao acaso de encontros e de catálogos, sem orientação, sem alguém que o aconselhasse, com o mesmo assombro criador do navegante que vai inventando cada lugar que descobre. Mas foi na biblioteca da escola industrial que O Ano da Morte de Ricardo Reis começou a ser escrito... Ali encontrou um dia o jovem aprendiz de serralheiro (teria então 17 anos) uma revista - "Atena" era o título - em que havia poemas assinados com aquele nome e, naturalmente, sendo tão mau conhecedor da cartografia literária do seu país, pensou que existia em Portugal um poeta que se chamava assim: Ricardo Reis. Não tardou muito tempo, porém, a saber que o poeta propriamente dito tinha sido um tal Fernando Nogueira Pessoa que assinava poemas com nomes de poetas inexistentes nascidos na sua cabeça e a que chamava heterónimos, palavra que não constava dos dicionários da época, por isso custou tanto trabalho ao aprendiz de letras saber o que ela significava. Aprendeu de cor muitos poemas de Ricardo Reis ("Para ser grande sê inteiro/Põe quanto és no mínimo que fazes"), mas não podia resignar-se, apesar de tão novo e ignorante, que um espírito superior tivesse podido conceber, sem remorso, este verso cruel: "Sábio é o que se contenta com o espectáculo do mundo". Muito, muito tempo depois, o aprendiz, já de cabelos brancos e um pouco mais sábio das suas próprias sabedorias, atreveu-se a escrever um romance para mostrar ao poeta das Odes alguma coisa do que era o espectáculo do mundo nesse ano de 1936 em que o tinha posto a viver os seus últimos dias: a ocupaçao da Renânia pelo exército nazista, a guerra de Franco contra a República espanhola, a criação por Salazar das milícias fascistas portuguesas. Foi como se estivesse a dizer-lhe: "Eis o espectáculo do mundo, meu poeta das amarguras serenas e do cepticismo elegante. Disfruta, goza, contempla, já que estar sentado é a tua sabedoria...".
O Ano da Morte de Ricardo Reis terminava com umas palavras melancólicas: "Aqui, onde o mar se acabou e a terra espera". Portanto, não haveria mais descobrimentos para Portugal, apenas como destino uma espera infinita de futuros nem ao menos imagináveis: só o fado do costume, a saudade de sempre, e pouco mais... Foi então que o aprendiz imaginou que talvez houvesse ainda uma maneira de tornar a lançar os barcos à água, por exemplo, mover a própria terra e pô-la a navegar pelo mar fora. Fruto imediato do ressentimento colectivo português pelos desdéns históricos de Europa (mais exacto seria dizer fruto de um meu ressentimento pessoal...), o romance que então escrevi - A Jangada de Pedra - separou do continente europeu toda a Península Ibérica para a transformar numa grande ilha flutuante, movendo-se sem remos, nem velas, nem hélices em direcção ao Sul do mundo, "massa de pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, rios, bosques, fábricas, matos bravios, campos cultivados, com a sua gente e os seus animais", a caminho de uma utopia nova: o encontro cultural dos povos peninsulares com os povos do outro lado do Atlântico, desafiando assim, a tanto a minha estratégia se atreveu, o domínio sufocante que os Estados Unidos da América do Norte vêm exercendo naquelas paragens... Uma visão duas vezes utópica entenderia esta ficção política como uma metáfora muito mais generosa e humana: que a Europa, toda ela, deverá deslocar-se para o Sul, a fim de, em desconto dos seus abusos colonialistas antigos e modernos, ajudar a equilibrar o mundo. Isto é, Europa finalmente como ética. As personagens da Jangada de Pedra - duas mulheres, três homens e um cão - viajam incansavelmente através da península enquanto ela vai sulcando o oceano. O mundo está a mudar e eles sabem que devem procurar em si mesmos as pessoas novas em que irão tornar-se (sem esquecer o cão, que não é um cão como os outros...). Isso lhes basta.
Lembrou-se então o aprendiz de que em tempos da sua vida havia feito algumas revisões de provas de livros e que se na Jangada de Pedra tinha, por assim dizer, revisado o futuro, não estaria mal que revisasse agora o passado, inventando um romance que se chamaria História do Cerco de Lisboa, no qual um revisor, revendo um livro do mesmo título, mas de História, e cansado de ver como a dita História cada vez é menos capaz de surpreender, decide pôr no lugar de um "sim" um "não", subvertendo a autoridade das"verdades históricas". Raimundo Silva, assim se chama o revisor, é um homem simples, vulgar, que só se distingue da maioria por acreditar que todas as coisas têm o seu lado visível e o seu lado invisível e que não saberemos nada delas enquanto não lhes tivermos dado a volta completa. De isso precisamente se trata numa conversa que ele tem com o historiador. Assim: "Recordo-lhe que os revisores já viram muito de literatura e vida, O meu livro, recordo-lho eu, é de história, Não sendo propósito meu apontar outras contradições, senhor doutor, em minha opinião tudo quanto não for vida é literatura, A história também. A história sobretudo, sem querer ofender, E a pintura, e a música, A música anda a resistir desde que nasceu, ora vai, ora vem, quer livrar-se da palavra, suponho que por inveja, mas regressa sempre à obediência, E a pintura, Ora, a pintura não é mais do que literatura feita com pincéis, Espero que não esteja esquecido de que a humanidade começou a pintar muito antes de saber escrever, Conhece o rifão, se não tens cão caça com o gato, ou, por outras palavras, quem não pode escrever, pinta, ou desenha, é o que fazem as crianças, O que você quer dizer, por outras palavras, é que a literatura já existia antes de ter nascido, Sim senhor, como o homem, por outras palavras, antes de o ser já o era, Quer-me parecer que você errou a vocação, devia era ser historiador, Falta-me o preparo, senhor doutor, que pode um simples homem fazer sem o preparo, muita sorte já foi ter vindo ao mundo com a genética arrumada, mas, por assim dizer, em estado bruto, e depois não mais polimento que primeiras letras que ficaram únicas, Podia apresentar-se como autodidacta, produto do seu próprio e digno esforço, não é vergonha nenhuma, antigamente a sociedade tinha orgulho nos seus autodidactas, isso acabou, veio o desenvolvimento e acabou, os autodidactas são vistos com maus olhos, só os que escrevem versos e histórias para distrair é que estão autorizados a ser autodidactas, mas eu para a criação literária nunca tive jeito, Então, meta-se a filósofo, O senhor doutor é um humorista, cultiva a ironia, chego a perguntar-me como se dedicou à história, sendo ela tão grave e profunda ciência, Sou irónico apenas na vida real, Bem me queria a mim parecer que a história não é a vida real, literatura, sim, e nada mais, Mas a história foi vida real no tempo em que ainda não se lhe poderia chamar história, Então o senhor doutor acha que a história e a vida real, Acho, sim, Que a história foi vida real, quero dizer, Não tenho a menor dúvida, Que seria de nós se o deleatur que tudo apaga não existisse, suspirou o revisor". Escusado será acrescentar que o aprendiz aprendeu com Raimundo Silva a lição da dúvida. Já não era sem tempo.
Ora, foi provavelmente esta aprendizagem da dúvida que o levou, dois anos mais tarde, a escrever O Evangelho segundo Jesus Cristo. É certo, e ele tem-no dito, que as palavras do título lhe surgiram por efeito de uma ilusão de óptica, mas é legítimo interrogar-nos se não teria sido o sereno exemplo do revisor o que, nesse meio tempo, lhe andou a preparar o terreno de onde haveria de brotar o novo romance. Desta vez não se tratava de olhar por trás das páginas do Novo Testamento à procura de contrários, mas sim de iluminar com uma luz rasante a superfície delas, como se faz a uma pintura, de modo a fazer-lhe ressaltar os relevos, os sinais de passagem, a obscuridade das depressões. Foi assim que o aprendiz, agora rodeado de personagens evangélicas, leu, como se fosse a primeira vez, a descrição da matança dos Inocentes, e, tendo lido, não compreendeu. Não compreendeu que já pudesse haver mártires numa religião que ainda teria de esperar trinta anos para que o seu fundador pronunciasse a primeira palavra dela, não compreendeu que não tivesse salvado a vida das crianças de Belém precisamente a única pessoa que o poderia ter feito, não compreendeu a ausência, em José, de um sentimento mínimo de responsabilidade, de remorso, de culpa, ou sequer de curiosidade, depois de voltar do Egipto com a família. Nem se poderá argumentar, em defesa da causa, que foi necessário que as crianças de Belém morressem para que pudesse salvar-se a vida de Jesus: o simples senso comum, que a todas as coisas, tanto às humanas como às divinas, deveria presidir, aí está para nos recordar que Deus não enviaria o seu Filho à terra, de mais a mais com o encargo de redimir os pecados da humanidade, para que ele viesse a morrer aos dois anos de idade degolado por um soldado de Herodes... Nesse Evangelho, escrito pelo aprendiz com o respeito que merecem os grandes dramas, José será consciente da sua culpa, aceitará o remorso em castigo da falta que cometeu e deixar-se-á levar à morte quase sem resistência, como se isso lhe faltasse ainda para liquidar as suas contas com o mundo. O Evangelho do aprendiz não é, portanto, mais uma lenda edificante de bem-aventurados e de deuses, mas a história de uns quantos seres humanos sujeitos a um poder contra o qual lutam, mas que não podem vencer. Jesus, que herdará as sandálias com que o pai tinha pisado o pó dos caminhos da terra, também herdará dele o sentimento trágico da responsabilidade e da culpa que nunca mais o abandonará, nem mesmo quando levantar a voz do alto da cruz: " Homens, perdoai-lhe porque ele não sabe o que fez", por certo referindo-se ao Deus que o levara até ali, mas quem sabe se recordando ainda, nessa agonia derradeira, o seu pai autêntico, aquele que, na carne e no sangue, humanamente o gerara. Como se vê, o aprendiz já tinha feito uma larga viagem quando no seu herético Evangelho escreveu as últimas palavras do diálogo no templo entre Jesus e o escriba: "A culpa é um lobo que come o filho depois de ter devorado o pai, disse o escriba, Esse lobo de que falas já comeu o meu pai, disse Jesus, Então só falta que te devore a ti, E tu, na tua vida, foste comido, ou devorado, Não apenas comido e devorado, mas vomitado, respondeu o escriba".
Se o Imperador Carlos Magno não tivesse estabelecido no Norte da Alemanha um mosteiro, se esse mosteiro não tivesse dado origem à cidade de Münster, se Münster não tivesse querido assinalar os mil e duzentos anos da sua fundação com uma ópera sobre a pavorosa guerra que enfrentou no século XVI protestantes anabaptistas e católicos, o aprendiz não teria escrito a peça de teatro a que chamou In Nomine Dei. Uma vez mais, sem outro auxílio que a pequena luz da sua razão, o aprendiz teve de penetrar no obscuro labirinto das crenças religiosas, essas que com tanta facilidade levam os seres humanos a matar e a deixar-se matar. E o que viu foi novamente a máscara horrenda da intolerância, uma intolerância que em Münster atingiu o paroxismo demencial, uma intolerância que insultava a própria causa que ambas as partes proclamavam defender. Porque não se tratava de uma guerra em nome de dois deuses inimigos, mas de uma guerra em nome de um mesmo deus. Cegos pelas suas próprias crenças, os anabaptistas e os católicos de Münster não foram capazes de compreender a mais clara de todas as evidências: no dia do Juízo Final, quando uns e outros se apresentarem a receber o prémio ou o castigo que mereceram as suas acções na terra, Deus, se em suas decisões se rege por algo parecido à lógica humana terá de receber no paraíso tanto a uns como aos outros, pela simples razão de que uns e outros nele crêem. A terrível carnificina de Münster ensinou ao aprendiz que, ao contrário do que prometeram, as religiões nunca serviram para aproximar os homens, e que a mais absurda de todas as guerras é uma guerra religiosa, tendo em consideração que Deus não pode, ainda que o quisesse, declarar guerra a si próprio...
Cegos. O aprendiz pensou: "Estamos cegos", e sentou-se a escrever o Ensaio sobre a Cegueira para recordar a quem o viesse a ler que usamos perversamente a razão quando humilhamos a vida, que a dignidade do ser humano é todos os dias insultada pelos poderosos do nosso mundo, que a mentira universal tomou o lugar das verdades plurais, que o homem deixou de respeitar-se a si mesmo quando perdeu o respeito que devia ao seu semelhante. Depois, aprendiz, como se tentasse exorcizar os monstros engendrados pela cegueira da razão, pôs-se a escrever a mais simples de todas as histórias: uma pessoa que vai à procura de outra pessoa apenas porque compreendeu que a vida não tem nada mais importante que pedir a um ser humano. O livro chama-se Todos os Nomes. Não escritos, todos os nossos nomes estão lá. Os nomes dos vivos e os nomes dos mortos.
Termino. A voz que leu estas páginas quis ser o eco das vozes conjuntas das minhas personagens. Não tenho, a bem dizer, mais voz que a voz que elas tiverem. Perdoai-me se vos pareceu pouco isto que para mim é tudo."
Com a devida vénia à Fundação Nobel, no título "José Saramago - Nobel Lecture (Portuguese)" e nos termos divulgados no saite
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1998/lecture-p.html
- - - « « « «» » » » - - -
José Saramago's Nobel Lecture (1998) in English translation from the Portuguese by Tim Crosfield and Fernando Rodrigues , courtesy to the Nobel Foundation under the title : "José Saramago - Nobel Lecture". Nobelprize.org in the site:
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1998/lecture-e.html
How Characters Became the Masters and the Author Their Apprentice
The wisest man I ever knew in my whole life could not read or write. At four o'clock in the morning, when the promise of a new day still lingered over French lands, he got up from his pallet and left for the fields, taking to pasture the half-dozen pigs whose fertility nourished him and his wife. My mother's parents lived on this scarcity, on the small breeding of pigs that after weaning were sold to the neighbours in our village of Azinhaga in the province of Ribatejo. Their names were Jerónimo Meirinho and Josefa Caixinha and they were both illiterate. In winter when the cold of the night grew to the point of freezing the water in the pots inside the house, they went to the sty and fetched the weaklings among the piglets, taking them to their bed. Under the coarse blankets, the warmth from the humans saved the little animals from freezing and rescued them from certain death. Although the two were kindly people, it was not a compassionate soul that prompted them to act in that way: what concerned them, without sentimentalism or rhetoric, was to protect their daily bread, as is natural for people who, to maintain their life, have not learnt to think more than is needful. Many times I helped my grandfather Jerónimo in his swineherd's labour, many times I dug the land in the vegetable garden adjoining the house, and I chopped wood for the fire, many times, turning and turning the big iron wheel which worked the water pump. I pumped water from the community well and carried it on my shoulders. Many times, in secret, dodging from the men guarding the cornfields, I went with my grandmother, also at dawn, armed with rakes, sacking and cord, to glean the stubble, the loose straw that would then serve as litter for the livestock. And sometimes, on hot summer nights, after supper, my grandfather would tell me: "José, tonight we're going to sleep, both of us, under the fig tree". There were two other fig trees, but that one, certainly because it was the biggest, because it was the oldest, and timeless, was, for everybody in the house, the fig tree. More or less by antonomasia, an erudite word that I met only many years after and learned the meaning of... Amongst the peace of the night, amongst the tree's high branches a star appeared to me and then slowly hid behind a leaf while, turning my gaze in another direction I saw rising into view like a river flowing silent through the hollow sky, the opal clarity of the Milky Way, the Road to Santiago as we still used to call it in the village. With sleep delayed, night was peopled with the stories and the cases my grandfather told and told: legends, apparitions, terrors, unique episodes, old deaths, scuffles with sticks and stones, the words of our forefathers, an untiring rumour of memories that would keep me awake while at the same time gently lulling me. I could never know if he was silent when he realised that I had fallen asleep or if he kept on talking so as not to leave half-unanswered the question I invariably asked into the most delayed pauses he placed on purpose within the account: "And what happened next?" Maybe he repeated the stories for himself, so as not to forget them, or else to enrich them with new detail. At that age and as we all do at some time, needless to say, I imagined my grandfather Jerónimo was master of all the knowledge in the world. When at first light the singing of birds woke me up, he was not there any longer, had gone to the field with his animals, letting me sleep on. Then I would get up, fold the coarse blanket and barefoot - in the village I always walked barefoot till I was fourteen - and with straws still stuck in my hair, I went from the cultivated part of the yard to the other part, where the sties were, by the house. My grandmother, already afoot before my grandfather, set in front of me a big bowl of coffee with pieces of bread in and asked me if I had slept well. If I told her some bad dream, born of my grandfather's stories, she always reassured me: "Don't make much of it, in dreams there's nothing solid". At the time I thought, though my grandmother was also a very wise woman, she couldn't rise to the heights grandfather could, a man who, lying under a fig tree, having at his side José his grandson, could set the universe in motion just with a couple of words. It was only many years after, when my grandfather had departed from this world and I was a grown man, I finally came to realise that my grandmother, after all, also believed in dreams. There could have been no other reason why, sitting one evening at the door of her cottage where she now lived alone, staring at the biggest and smallest stars overhead, she said these words: "The world is so beautiful and it is such a pity that I have to die". She didn't say she was afraid of dying, but that it was a pity to die, as if her hard life of unrelenting work was, in that almost final moment, receiving the grace of a supreme and last farewell, the consolation of beauty revealed. She was sitting at the door of a house like none other I can imagine in all the world, because in it lived people who could sleep with piglets as if they were their own children, people who were sorry to leave life just because the world was beautiful; and this Jerónimo, my grandfather, swineherd and story-teller, feeling death about to arrive and take him, went and said goodbye to the trees in the yard, one by one, embracing them and crying because he knew he wouldn't see them again.
Many years later, writing for the first time about my grandfather Jerónimo and my grandmother Josefa (I haven't said so far that she was, according to many who knew her when young, a woman of uncommon beauty), I was finally aware I was transforming the ordinary people they were into literary characters: this was, probably, my way of not forgetting them, drawing and redrawing their faces with the pencil that ever changes memory, colouring and illuminating the monotony of a dull and horizonless daily routine as if creating, over the unstable map of memory, the supernatural unreality of the country where one has decided to spend one's life. The same attitude of mind that, after evoking the fascinating and enigmatic figure of a certain Berber grandfather, would lead me to describe more or less in these words an old photo (now almost eighty years old) showing my parents "both standing, beautiful and young, facing the photographer, showing in their faces an expression of solemn seriousness, maybe fright in front of the camera at the very instant when the lens is about to capture the image they will never have again, because the following day will be, implacably, another day... My mother is leaning her right elbow against a tall pillar and holds, in her right hand drawn in to her body, a flower. My father has his arm round my mother's back, his callused hand showing over her shoulder, like a wing. They are standing, shy, on a carpet patterned with branches. The canvas forming the fake background of the picture shows diffuse and incongruous neo-classic architecture." And I ended, "The day will come when I will tell these things. Nothing of this matters except to me. A Berber grandfather from North Africa, another grandfather a swineherd, a wonderfully beautiful grandmother; serious and handsome parents, a flower in a picture - what other genealogy would I care for? and what better tree would I lean against?"
I wrote these words almost thirty years ago, having no other purpose than to rebuild and register instants of the lives of those people who engendered and were closest to my being, thinking that nothing else would need explaining for people to know where I came from and what materials the person I am was made of, and what I have become little by little. But after all I was wrong, biology doesn't determine everything and as for genetics, very mysterious must have been its paths to make its voyages so long... My genealogical tree (you will forgive the presumption of naming it this way, being so diminished in the substance of its sap) lacked not only some of those branches that time and life's successive encounters cause to burst from the main stem but also someone to help its roots penetrate the deepest subterranean layers, someone who could verify the consistency and flavour of its fruit, someone to extend and strengthen its top to make of it a shelter for birds of passage and a support for nests. When painting my parents and grandparents with the paints of literature, transforming them from common people of flesh and blood into characters, newly and in different ways builders of my life, I was, without noticing, tracing the path by which the characters I would invent later on, the others, truly literary, would construct and bring to me the materials and the tools which, at last, for better or for worse, in the sufficient and in the insufficient, in profit and loss, in all that is scarce but also in what is too much, would make of me the person whom I nowadays recognise as myself: the creator of those characters but at the same time their own creation. In one sense it could even be said that, letter-by-letter, word-by-word, page-by-page, book after book, I have been successively implanting in the man I was the characters I created. I believe that without them I wouldn't be the person I am today; without them maybe my life wouldn't have succeeded in becoming more than an inexact sketch, a promise that like so many others remained only a promise, the existence of someone who maybe might have been but in the end could not manage to be.
Now I can clearly see those who were my life-masters, those who most intensively taught me the hard work of living, those dozens of characters from my novels and plays that right now I see marching past before my eyes, those men and women of paper and ink, those people I believed I was guiding as I the narrator chose according to my whim, obedient to my will as an author, like articulated puppets whose actions could have no more effect on me than the burden and the tension of the strings I moved them with. Of those masters, the first was, undoubtedly, a mediocre portrait-painter, whom I called simply H, the main character of a story that I feel may reasonably be called a double initiation (his own, but also in a manner of speaking the author's) entitled Manual of Painting and Calligraphy, who taught me the simple honesty of acknowledging and observing, without resentment or frustration, my own limitations: as I could not and did not aspire to venture beyond my little plot of cultivated land, all I had left was the possibility of digging down, underneath, towards the roots. My own but also the world's, if I can be allowed such an immoderate ambition. It's not up to me, of course, to evaluate the merits of the results of efforts made, but today I consider it obvious that all my work from then on has obeyed that purpose and that principle.
Then came the men and women of Alentejo, that same brotherhood of the condemned of the earth where belonged my grandfather Jerónimo and my grandmother Josefa, primitive peasants obliged to hire out the strength of their arms for a wage and working conditions that deserved only to be called infamous, getting for less than nothing a life which the cultivated and civilised beings we are proud to be are pleased to call - depending on the occasion - precious, sacred or sublime. Common people I knew, deceived by a Church both accomplice and beneficiary of the power of the State and of the landlords, people permanently watched by the police, people so many times innocent victims of the arbitrariness of a false justice. Three generations of a peasant family, the Badweathers, from the beginning of the century to the April Revolution of 1974 which toppled dictatorship, move through this novel, called Risen from the Ground, and it was with such men and women risen from the ground, real people first, figures of fiction later, that I learned how to be patient, to trust and to confide in time, that same time that simultaneously builds and destroys us in order to build and once more to destroy us. The only thing I am not sure of having assimilated satisfactorily is something that the hardship of those experiences turned into virtues in those women and men: a naturally austere attitude towards life. Having in mind, however, that the lesson learned still after more than twenty years remains intact in my memory, that every day I feel its presence in my spirit like a persistent summons: I haven't lost, not yet at least, the hope of meriting a little more the greatness of those examples of dignity proposed to me in the vast immensity of the plains of Alentejo. Time will tell.
What other lessons could I possibly receive from a Portuguese who lived in the sixteenth century, who composed the Rimas and the glories, the shipwrecks and the national disenchantments in the Lusíadas, who was an absolute poetical genius, the greatest in our literature, no matter how much sorrow this causes to Fernando Pessoa, who proclaimed himself its Super Camões? No lesson would fit me, no lesson could I learn, except the simplest, which could have been offered to me by Luís Vaz de Camões in his pure humanity, for instance the proud humility of an author who goes knocking at every door looking for someone willing to publish the book he has written, thereby suffering the scorn of the ignoramuses of blood and race, the disdainful indifference of a king and of his powerful entourage, the mockery with which the world has always received the visits of poets, visionaries and fools. At least once in life, every author has been, or will have to be, Luís de Camões, even if they haven't written the poem Sôbolos Rios... Among nobles, courtiers and censors from the Holy Inquisition, among the loves of yester-year and the disillusionments of premature old age, between the pain of writing and the joy of having written, it was this ill man, returning poor from India where so many sailed just to get rich, it was this soldier blind in one eye, slashed in his soul, it was this seducer of no fortune who will never again flutter the hearts of the ladies in the royal court, whom I put on stage in a play called What shall I do with this Book?, whose ending repeats another question, the only truly important one, the one we will never know if it will ever have a sufficient answer: "What will you do with this book?" It was also proud humility to carry under his arm a masterpiece and to be unfairly rejected by the world. Proud humility also, and obstinate too - wanting to know what the purpose will be, tomorrow, of the books we are writing today, and immediately doubting whether they will last a long time (how long?) the reassuring reasons we are given or that are given us by ourselves. No-one is better deceived than when he allows others to deceive him.
Here comes a man whose left hand was taken in war and a woman who came to this world with the mysterious power of seeing what lies beyond people's skin. His name is Baltazar Mateus and his nickname Seven-Suns; she is known as Blimunda and also, later, as Seven-Moons because it is written that where there is a sun there will have to be a moon and that only the conjoined and harmonious presence of the one and the other will, through love, make earth habitable. There also approaches a Jesuit priest called Bartolomeu who invented a machine capable of going up to the sky and flying with no other fuel than the human will, the will which, people say, can do anything, the will that could not, or did not know how to, or until today did not want to, be the sun and the moon of simple kindness or of even simpler respect. These three Portuguese fools from the eighteenth century, in a time and country where superstition and the fires of the Inquisition flourished, where vanity and the megalomania of a king raised a convent, a palace and a basilica which would amaze the outside world, if that world, in a very unlikely supposition, had eyes enough to see Portugal, eyes like Blimunda's, eyes to see what was hidden... Here also comes a crowd of thousands and thousands of men with dirty and callused hands, exhausted bodies after having lifted year after year, stone-by-stone, the implacable convent walls, the huge palace rooms, the columns and pilasters, the airy belfries, the basilica dome suspended over empty space. The sounds we hear are from Domenico Scarlatti's harpsichord, and he doesn't quite know if he is supposed to be laughing or crying... This is the story of Baltazar and Blimunda, a book where the apprentice author, thanks to what had long ago been taught to him in his grandparents' Jerónimo's and Josefa's time, managed to write some similar words not without poetry: "Besides women's talk, dreams are what hold the world in its orbit. But it is also dreams that crown it with moons, that's why the sky is the splendour in men's heads, unless men's heads are the one and only sky." So be it.
Of poetry the teenager already knew some lessons, learnt in his textbooks when, in a technical school in Lisbon, he was being prepared for the trade he would have at the beginning of his labour's life: mechanic. He also had good poetry masters during long evening hours in public libraries, reading at random, with finds from catalogues, with no guidance, no-one to advise him, with the creative amazement of the sailor who invents every place he discovers. But it was at the Industrial School Library that The Year of the Death of Ricardo Reis started to be written... There, one day the young mechanic (he was about seventeen) found a magazine entitled Atena containing poems signed with that name and, naturally, being very poorly acquainted with the literary cartography of his country, he thought that there really was a Portuguese poet called Ricardo Reis. Very soon, though, he found that this poet was really one Fernando Nogueira Pessoa, who signed his works with the names of non-existent poets, born of his mind. He called them heteronyms, a word that did not exist in the dictionaries of the time which is why it was so hard for the apprentice to letters to know what it meant. He learnt many of Ricardo Reis' poems by heart ("To be great, be one/Put yourself into the little things you do"); but in spite of being so young and ignorant, he could not accept that a superior mind could really have conceived, without remorse, the cruel line "Wise is he who is satisfied with the spectacle of the world". Later, much later, the apprentice, already with grey hairs and a little wiser in his own wisdom, dared to write a novel to show this poet of the Odes something about the spectacle of the world of 1936, where he had placed him to live out his last few days: the occupation of the Rhineland by the Nazi army, Franco's war against the Spanish Republic, the creation by Salazar of the Portuguese Fascist militias. It was his way of telling him: "Here is the spectacle of the world, my poet of serene bitterness and elegant scepticism. Enjoy, behold, since to be sitting is your wisdom..."
The Year of the Death of Ricardo Reis ended with the melancholy words: "Here, where the sea has ended and land awaits." So there would be no more discoveries by Portugal, fated to one infinite wait for futures not even imaginable; only the usual fado, the same old saudade and little more... Then the apprentice imagined that there still might be a way of sending the ships back to the water, for instance, by moving the land and setting that out to sea. An immediate fruit of collective Portuguese resentment of the historical disdain of Europe (more accurate to say fruit of my own resentment...) the novel I then wrote - The Stone Raft - separated from the Continent the whole Iberian Peninsula and transformed it into a big floating island, moving of its own accord with no oars, no sails, no propellers, in a southerly direction, "a mass of stone and land, covered with cities, villages, rivers, woods, factories and bushes, arable land, with its people and animals" on its way to a new Utopia: the cultural meeting of the Peninsular peoples with the peoples from the other side of the Atlantic, thereby defying - my strategy went that far - the suffocating rule exercised over that region by the United States of America... A vision twice Utopian would see this political fiction as a much more generous and human metaphor: that Europe, all of it, should move South to help balance the world, as compensation for its former and its present colonial abuses. That is, Europe at last as an ethical reference. The characters in The Stone Raft - two women, three men and a dog - continually travel through the Peninsula as it furrows the ocean. The world is changing and they know they have to find in themselves the new persons they will become (not to mention the dog, he is not like other dogs...). This will suffice for them.
Then the apprentice recalled that at a remote time of his life he had worked as a proof-reader and that if, so to say, in The Stone Raft he had revised the future, now it might not be a bad thing to revise the past, inventing a novel to be called History of the Siege of Lisbon, where a proof-reader, checking a book with the same title but a real history book and tired of watching how "History" is less and less able to surprise, decides to substitute a "yes" for a "no", subverting the authority of "historical truth". Raimundo Silva, the proof-reader, is a simple, common man, distinguished from the crowd only by believing that all things have their visible sides and their invisible ones and that we will know nothing about them until we manage to see both. He talks about this with the historian thus: "I must remind you that proof-readers are serious people, much experienced in literature and life, My book, don't forget, deals with history. However, since I have no intention of pointing out other contradictions, in my modest opinion, Sir, everything that is not literature is life, History as well, Especially history, without wishing to give offence, And painting and music, Music has resisted since birth, it comes and goes, tries to free itself from the word, I suppose out of envy, only to submit in the end, And painting, Well now, painting is nothing more than literature achieved with paintbrushes, I trust you haven't forgotten that mankind began to paint long before it knew how to write, Are you familiar with the proverb, If you don't have a dog, go hunting with a cat, in other words, the man who cannot write, paints or draws, as if he were a child, What you are trying to say, in other words, is that literature already existed before it was born, Yes, Sir, just like man who, in a manner of speaking, existed before he came into being, It strikes me that you have missed your vocation, you should have become a philosopher, or historian, you have the flair and temperament needed for these disciplines, I lack the necessary training, Sir, and what can a simple man achieve without training, I was more than fortunate to come into the world with my genes in order, but in a raw state as it were, and then no education beyond primary school, You could have presented yourself as being self-taught, the product of your own worthy efforts, there's nothing to be ashamed of, society in the past took pride in its autodidacts, No longer, progress has come along and put an end to all of that, now the self-taught are frowned upon, only those who write entertaining verses and stories are entitled to be and go on being autodidacts, lucky for them, but as for me, I must confess that I never had any talent for literary creation, Become a philosopher, man, You have a keen sense of humour, Sir, with a distinct flair for irony, and I ask myself how you ever came to devote yourself to history, serious and profound science as it is, I'm only ironic in real life, It has always struck me that history is not real life, literature, yes, and nothing else, But history was real life at the time when it could not yet be called history, So you believe, Sir, that history is real life, Of course, I do, I meant to say that history was real life, No doubt at all, What would become of us if the deleatur did not exist, sighed the proof-reader." It is useless to add that the apprentice had learnt, with Raimundo Silva, the lesson of doubt. It was about time.
Well, probably it was this learning of doubt that made him go through the writing of The Gospel According to Jesus Christ. True, and he has said so, the title was the result of an optical illusion, but it is fair to ask whether it was the serene example of the proof-reader who, all the time, had been preparing the ground from where the new novel would gush out. This time it was not a matter of looking behind the pages of the New Testament searching for antitheses, but of illuminating their surfaces, like that of a painting, with a low light to heighten their relief, the traces of crossings, the shadows of depressions. That's how the apprentice read, now surrounded by evangelical characters, as if for the first time, the description of the massacre of the innocents and, having read, he couldn't understand. He couldn't understand why there were already martyrs in a religion that would have to wait thirty years more to listen to its founder pronouncing the first word about it, he could not understand why the only person that could have done so dared not save the lives of the children of Bethlehem, he could not understand Joseph's lack of a minimum feeling of responsibility, of remorse, of guilt, or even of curiosity, after returning with his family from Egypt. It cannot even be argued in defence that it was necessary for the children of Bethlehem to die to save the life of Jesus: simple common sense, that should preside over all things human and divine, is there to remind us that God would not send His Son to Earth, particularly with the mission of redeeming the sins of mankind, to die beheaded by a soldier of Herod at the age of two... In that Gospel, written by the apprentice with the great respect due to great drama, Joseph will be aware of his guilt, will accept remorse as a punishment for the sin he has committed and will be taken to die almost without resistance, as if this were the last remaining thing to do to clear his accounts with the world. The apprentice's Gospel is not, consequently, one more edifying legend of blessed beings and gods, but the story of a few human beings subjected to a power they fight but cannot defeat. Jesus, who will inherit the dusty sandals with which his father had walked so many country roads, will also inherit his tragic feeling of responsibility and guilt that will never abandon him, not even when he raises his voice from the top of the cross: "Men, forgive him because he knows not what he has done", referring certainly to the God who has sent him there, but perhaps also, if in that last agony he still remembers, his real father who has generated him humanly in flesh and blood. As you can see, the apprentice had already made a long voyage when in his heretical Gospel he wrote the last words of the temple dialogue between Jesus and the scribe: "Guilt is a wolf that eats its cub after having devoured its father, The wolf of which you speak has already devoured my father, Then it will be soon your turn, And what about you, have you ever been devoured, Not only devoured, but also spewed up".
Had Emperor Charlemagne not established a monastery in North Germany, had that monastery not been the origin of the city of Münster, had Münster not wished to celebrate its twelve-hundredth anniversary with an opera about the dreadful sixteenth-century war between Protestant Anabaptists and Catholics, the apprentice would not have written his play In Nomine Dei. Once more, with no other help than the tiny light of his reason, the apprentice had to penetrate the obscure labyrinth of religious beliefs, the beliefs that so easily make human beings kill and be killed. And what he saw was, once again, the hideous mask of intolerance, an intolerance that in Münster became an insane paroxysm, an intolerance that insulted the very cause that both parties claimed to defend. Because it was not a question of war in the name of two inimical gods, but of war in the name of a same god. Blinded by their own beliefs, the Anabaptists and the Catholics of Münster were incapable of understanding the most evident of all proofs: on Judgement Day, when both parties come forward to receive the reward or the punishment they deserve for their actions on earth, God - if His decisions are ruled by anything like human logic - will have to accept them all in Paradise, for the simple reason that they all believe in it. The terrible slaughter in Münster taught the apprentice that religions, despite all they promised, have never been used to bring men together and that the most absurd of all wars is a holy war, considering that God cannot, even if he wanted to, declare war on himself...
Blind. The apprentice thought, "we are blind", and he sat down and wrote Blindness to remind those who might read it that we pervert reason when we humiliate life, that human dignity is insulted every day by the powerful of our world, that the universal lie has replaced the plural truths, that man stopped respecting himself when he lost the respect due to his fellow-creatures. Then the apprentice, as if trying to exorcise the monsters generated by the blindness of reason, started writing the simplest of all stories: one person is looking for another, because he has realised that life has nothing more important to demand from a human being. The book is called All the Names. Unwritten, all our names are there. The names of the living and the names of the dead.
I conclude. The voice that read these pages wished to be the echo of the conjoined voices of my characters. I don't have, as it were, more voice than the voices they had. Forgive me if what has seemed little to you, to me is all."


 .
.